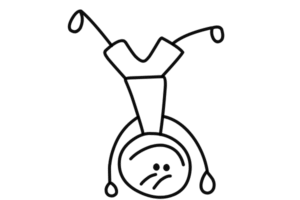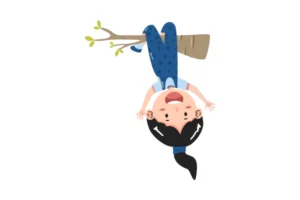Quando o saber pula corda
Na roda que se forma no pátio, sob o som de cantigas antigas, uma criança gira a corda enquanto outra se prepara para entrar. Há um compasso entre o corpo e o tempo, entre o gesto e o ritmo, entre o eu e o outro. Pular corda é mais do que exercício físico — é narrativa coletiva, é construção de vínculos, é jogo simbólico. A pedagogia do brincar começa aí: onde o corpo brinca e o saber se move em espiral.
Nesta conversa com educadoras e educadores da infância, convidamos a refletir sobre os saberes que se produzem no brincar — especialmente no brincar vivido, partilhado e respeitado como um direito e uma linguagem. Brincar, afinal, é também forma de aprender, de ensinar, de se inscrever no mundo.
🎠 Brincar é aprender com o corpo inteiro
Quando falamos em brincar, falamos de algo que transcende a atividade. Estamos tratando de uma experiência sensível, profunda e fundadora da infância. Como ensina Luciana Ostetto (2012), o brincar é a linguagem com a qual a criança interpreta, transforma e comunica o mundo.
Ao brincar, a criança não apenas repete gestos, mas experimenta papéis sociais, organiza pensamentos, elabora emoções, fortalece vínculos e exercita a criatividade. É uma prática que envolve o corpo, a emoção, a memória e a imaginação. Como bem nos lembra Winnicott (1975), o brincar é a base da cultura — ele é o espaço transicional onde a realidade e a fantasia se encontram.
É no brincar que a criança ensaia o mundo. Ao montar um castelo de areia, ela aprende física, proporções, paciência. Ao brincar de casinha, experimenta papéis, normas sociais, sentimentos. Ao pular corda, desenvolve ritmo, lateralidade, noção de grupo e escuta.
Brincar, portanto, não é uma pausa da aprendizagem — é um modo potente de aprender.
🧠 Fundamentos teóricos: o brincar como eixo formativo
A pedagogia do brincar está apoiada em sólidas bases teóricas. Educadores e pesquisadores da infância, como Lev Vygotsky, Jean Piaget, Henri Wallon, entre outros, destacaram o papel essencial da brincadeira no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança.
Para Vygotsky (1991), o brincar simbólico permite que a criança opere em níveis superiores de desenvolvimento. Ao brincar de escola, por exemplo, ela atua numa zona de desenvolvimento proximal: encena o que ainda não sabe plenamente, mas que está prestes a aprender. O faz-de-conta, portanto, antecipa aprendizados e fortalece capacidades.
Henri Wallon (2007) ressalta a integração entre emoção e cognição, afirmando que o movimento e o afeto são vias de construção do pensamento. No brincar, essas dimensões aparecem entrelaçadas: a alegria do jogo, o desejo de partilhar, o conflito que exige solução.
Sonia Kramer (2007) também é voz fundamental no Brasil ao afirmar que o brincar precisa estar no centro do currículo da Educação Infantil, não como uma “atividade lúdica” isolada, mas como modo de ser e conhecer da criança.
✨ Saberes que pulam corda: o que a criança aprende quando brinca
Quando dizemos que há saberes que pulam corda, estamos reconhecendo que o brincar carrega saberes múltiplos e interligados, que muitas vezes passam despercebidos por olhares apressados. Vamos nomear alguns desses saberes:
1. Saberes do corpo
A criança que corre, salta, equilibra-se ou gira aprende com o próprio corpo. Desenvolve coordenação motora, noção espacial, ritmo, lateralidade. Esses saberes corporais são fundamentais para a aprendizagem formal futura, mas também para a expressividade e a saúde integral.
2. Saberes da convivência
Brincar em grupo exige negociação, turnos, escuta, resolução de conflitos, empatia. Ao brincar, a criança vivencia papéis sociais, aprende a esperar sua vez, a lidar com frustrações e a celebrar conquistas coletivas.
3. Saberes da linguagem
Brincadeiras verbais, cantigas, rimas e jogos de faz-de-conta são campos férteis para o desenvolvimento da linguagem oral. A criança amplia vocabulário, estrutura frases, conta histórias, escuta o outro e exercita narrativas.
4. Saberes matemáticos e científicos
Ao construir uma ponte com blocos, ao contar quantos pulos consegue dar, ao medir a altura de uma torre, a criança mobiliza noções matemáticas (contagem, comparação, estimativa) e científicas (peso, equilíbrio, causa e efeito).
5. Saberes da imaginação e do símbolo
O faz-de-conta é lugar de invenção, de reencenação e de criação de mundos. A criança explora o imaginário, transforma objetos, cria enredos, resolve dilemas simbólicos. Como diz Marina Colasanti, ela “conta o mundo com as mãos”.
🎨 A brincadeira como forma de expressão e cultura
Brincar também é expressão cultural. Muitas brincadeiras tradicionais — como pular corda, amarelinha, cirandas, esconde-esconde — carregam em si um repertório ancestral, coletivo, transmitido entre gerações. Ao brincar, a criança se inscreve numa cultura e também a reinventa.
Como afirma Adriana Friedmann, a brincadeira é uma linguagem expressiva e criativa, que revela o modo como a criança percebe o mundo e se posiciona nele. Resgatar e valorizar as brincadeiras da cultura popular é uma forma de reconhecer a infância como produtora de cultura e memória.
🎵 Brincadeiras Tradicionais: Memória Viva da Infância
As brincadeiras tradicionais — como roda, amarelinha, pular corda, esconde-esconde, cantigas e parlendas — carregam em si a memória sensível de muitas infâncias. São formas de brincar que atravessaram gerações, tecendo uma rede invisível entre tempos e pessoas. Ao brincá-las hoje, as crianças não apenas se divertem: elas se conectam a uma herança cultural coletiva, experimentando pertencimento, ritmo, musicalidade e linguagem.
Em tempos em que a infância é acelerada, consumida e atravessada por tecnologias e brinquedos industrializados, o resgate dessas brincadeiras é um gesto de cuidado com a cultura da infância. É reconhecer que há saberes profundos na simplicidade de uma ciranda ou no ritmo de um verso entoado em coro.
A musicóloga, educadora e pesquisadora Lygia Hortélio é referência essencial nesse campo. Nascida em Salvador e profundamente enraizada na cultura popular brasileira, Lygia dedicou sua vida a pesquisar, preservar e difundir o brincar tradicionalinfantil, especialmente as cantigas, os jogos de roda e as brincadeiras do interior do Brasil.
“A infância é território sagrado. A cultura da infância é nossa raiz. E o brincar é o modo como a criança celebra esse enraizamento.” — Lygia Hortélio
Para ela, as brincadeiras populares não são apenas passatempo: são expressões poéticas, musicais, corporais e comunitárias. Elas ensinam ritmo, oralidade, escuta, respeito à vez do outro, encantamento. São formas de viver em comunidade, de transmitir valores, de experimentar o corpo em relação com o outro e com o espaço.
Além disso, como Lygia defende, essas brincadeiras pertencem à criança. Elas não são “ensinadas” por adultos, mas compartilhadas, vividas, transmitidas de criança para criança, num fluxo vivo e espontâneo. O papel do educador, portanto, não é impor, mas propor com respeito, vivenciar com o grupo e manter viva a memória sem folclorizar.
🌻 Por que resgatar brincadeiras tradicionais na escola?
- Valorizam a cultura popular e a identidade local;
- Fortalecem vínculos intergeracionais, quando adultos compartilham suas memórias com as crianças;
- Desenvolvem ritmo, coordenação, oralidade e escuta coletiva;
- Promovem alegria e pertencimento;
- Alimentam o imaginário com poesia e simplicidade;
- Equilibram o excesso de estímulos digitais, favorecendo o tempo lento e o corpo presente.
🌺 Em síntese:
Trazer as brincadeiras tradicionais para a escola é reencantar o cotidiano com a força das raízes, com o sopro da ancestralidade, com o corpo que canta e se move em roda. É reconhecer que a infância também tem cultura, memória e história — e que educar com ludicidade é, muitas vezes, recuperar saberes antigos com olhos novos.
Como dizia Lygia Hortélio: “Brincar é um modo de ser no mundo. É preciso proteger esse lugar sagrado que é a infância. E as cantigas, os versos, os jogos… tudo isso é bênção para quem vive o tempo de ser criança.”
🪁 O papel do educador na pedagogia do brincar
Se brincar é potente, o papel do educador não é menor. O professor é curador do tempo, do espaço e dos materiais. Ele observa, escuta, organiza o ambiente, mas também se permite brincar junto — sem conduzir, mas partilhar.
O educador que compreende a pedagogia do brincar:
- 📚 Cria tempos protegidos para o brincar livre;
- 🌻 Observa com sensibilidade as escolhas e invenções das crianças;
- 🧺 Disponibiliza materiais abertos e variados;
- 🎶 Valoriza e resgata o repertório cultural do brincar;
- 🧏♀️ Escuta o gesto, o silêncio, o jogo simbólico;
- 🖍️ Registra as brincadeiras como forma de documentar os saberes;
- 💬 Compartilha com as famílias a potência do brincar.
O professor não “comanda” o brincar, mas o sustenta. Ele confia na capacidade da criança de se autorregular, de criar, de aprender por si. Como ensina Luciana Ostetto, o adulto que brinca com a criança não é o que comanda o jogo, mas o que se deixa afetar por ele.
🏡 Brincar na escola: desafios e possibilidades
Apesar de todo esse valor, muitas escolas ainda tratam o brincar como tempo “livre”, desvinculado da aprendizagem. A lógica da escolarização precoce, das avaliações e da produtividade ameaça o tempo da infância. É preciso resistir a essa tendência. Como afirma Kramer, uma escola que respeita o brincar é uma escola que respeita a infância. Para isso, é necessário:
- ✨ Formar professores com sensibilidade para a escuta e o lúdico;
- 🕰️ Reorganizar rotinas escolares que não fragmentem o brincar;
- 🌈 Criar ambientes ricos em estímulos, mas não excessivamente dirigidos;
- 📷 Documentar as experiências como forma de visibilizar o que se aprende.
Brincar não é ausência de currículo — é o próprio currículo da infância.
🌻 Conclusão: Uma corda que nos liga
Os saberes que pulam corda não se medem em provas, mas vivem no brilho do olho, no corpo que salta, na voz que canta, no gesto que convida. A pedagogia do brincar é feita de escuta, de tempo alargado, de confiança nas potências infantis.
Educar com o brincar é aceitar que o conhecimento também pode vir pelo riso, pela tentativa e erro, pela roda de cantigas, pela reinvenção de uma caixa de papelão. Como disse Manoel de Barros, “o menino que não brinca não é menino: é adulto cedo demais”.
Que saibamos proteger o brincar. Que sejamos educadores que pulam corda com as crianças — não para ensinar a pular, mas para pular junto e descobrir, no compasso do jogo, que ensinar é também brincar.